O Caso Eletrobras: Axia, União e o conforto da culpa sem dono

O julgamento do acordo entre a Axia Energia (ex-Eletrobras) e a União no Supremo Tribunal Federal não é apenas mais um capítulo de briga pelo poder de voto numa estatal privatizada. Ele expõe algo mais incômodo: o quanto o mercado e a gestão pública passaram a gostar de modelos de governança em que ninguém parece mandar – e, principalmente, ninguém parece responder.
Desde 2023, quando a AGU levou ao STF a ADI 7.385 para questionar o voting cap de 10% sobre uma participação de 43% da União, o contencioso foi apresentado como uma história de “injustiça societária”: o Estado com capital de sócio dominante, mas voz de acionista minoritário. A tese da AGU de “desapropriação indireta” de poder político na companhia ganhou contornos dramáticos, como se a União tivesse sido enganada por um arranjo que esvaziou seu papel numa empresa estratégica.
Do outro lado, a reação do mercado, encarnada pela Abrasca, também veio carregada de hipérbole: se o STF aceitasse a tese, assembleias virariam peças descartáveis e estatutos poderiam ser reescritos a cada mudança de governo. O pano de fundo era outro: a União participou da assembleia que aprovou o estatuto, votou a favor do voting cap e só depois, em outro governo, resolveu tratar o acordo como afronta ao interesse público.
O acordo agora submetido à aprovação do Supremo tenta escapar desse impasse sem que ninguém tenha de assumir a culpa. O julgamento da homologação desse acerto entre público e privado está programado para amanhã, prevendo os seguintes termos:
- Manutenção do voting cap de 10% de votos por acionista;
- União ganha três das 10 cadeiras do conselho e poder de veto em matérias estratégicas;
- Axia se livra de Angra 3, talvez o ativo mais tóxico da história recente do setor elétrico;
- É preservada a estrutura corporation (companhia aberta sem controlador definido) da ex-Eletrobras.
Essa previsão dos três assentos em voto separado não transforma a União em um “quase controlador”. O movimento é mais sutil: a construção de um acordo global, um regime de exceção societária negociado, com o selo do Supremo Tribunal Federal. No papel, todos seguem com o mesmo limite formal de voto. Na prática, um acionista que se ressentiu de ter deixado tanto na mesa ganha um pacote de direitos reforçados.
Se o Supremo chancelar o acordo, o recado institucional é direto: em um ambiente de conflitos societários complexos, especialmente em setores regulados, não vale o escrito; vale o que se acerta depois, nos termos e condições de amplos acordos híbridos – meio regulatórios, meio judiciais, meio políticos.
Como será que o mercado irá precificar isso? Será que o investidor ativista, em vez de simplesmente acumular ações e formar blocos de voto em companhias com ou sem a participação do Estado, passará a mirar a construção de “atalhos” de governança via negociações litigiosas? É possível, considerando o crescente apetite da Faria Lima em financiar litígios.
Independentemente do que o futuro nos reserva, uma análise fria dos termos do acordo levado a votação no Supremo não parece ter ficado particularmente ruim para nenhum dos lados.
Para os capitalistas que investiram na desestatização, continua sendo confortável operar numa companhia sem controlador definido e com liquidez em bolsa. A nova possibilidade de repactuação, pela via judicial, junto ao atual governo de um negócio firmado com a gestão anterior, mantendo-se o grosso do que foi combinado e fazendo concessões recíprocas, é interessante – ainda mais quando se consegue a liberação do compromisso de investimento em um projeto problemático como o caso das obras de Angra 3.
Para o Poder Público, é igualmente conveniente manter a narrativa de que a empresa foi privatizada e que o governo atual respeita acordos firmados pela administração anterior. Como já foi defendido da tribuna por um conhecido estatista de Alagoas, aqui parafraseado, neste acordo entre Axia e União não se estaria diante de uma mudança legislativa, mas apenas promovendo uma “equiparação” da posição do Estado aos direitos dos demais acionistas.
No fim, sobra uma pergunta que o acordo não responde: se, na assembleia que definiu o estatuto pós-privatização, a União não votou contra o modelo de desestatização que agora alega contrariar o interesse público, quem paga a conta dessa escolha? Não se fala em responsabilização de quem desenhou, aprovou e executou a privatização com voting cap de 10% para a União enquanto detentora de 43% do capital votante. O sistema apenas se adapta, redistribui cadeiras, reescreve vetos, para seguir o jogo.
Talvez seja justamente aí o ponto onde o mercado e o Poder Público se abraçam: nesse modelo de governança em que não se sabe quem é o controlador, que acidentes de percurso podem ser corrigidos sem derramamento de sangue, em mesas de conciliação onde não se apontam culpados e todos os supostamente envolvidos acabam anistiados de toda e qualquer culpa.
A desestatização da Eletrobras deixa de ser apenas um caso de privatização problemática e passa a ser um espelho de como o Brasil gosta de lidar com o poder econômico e o poder político: a arte cada vez mais sofisticada de nunca haver ninguém realmente no comando quando algo dá errado e de se fazer dos limões a limonada. Por vezes, o sumo é demasiadamente cítrico; em outras, mais açucarado no paladar.
RECENT PUBLICATIONS
-

The Right to in-kind compensation due to unjustified administrative delay: An approach to state civil liability on patent granting administrative proceeding
February 23, 2026 -
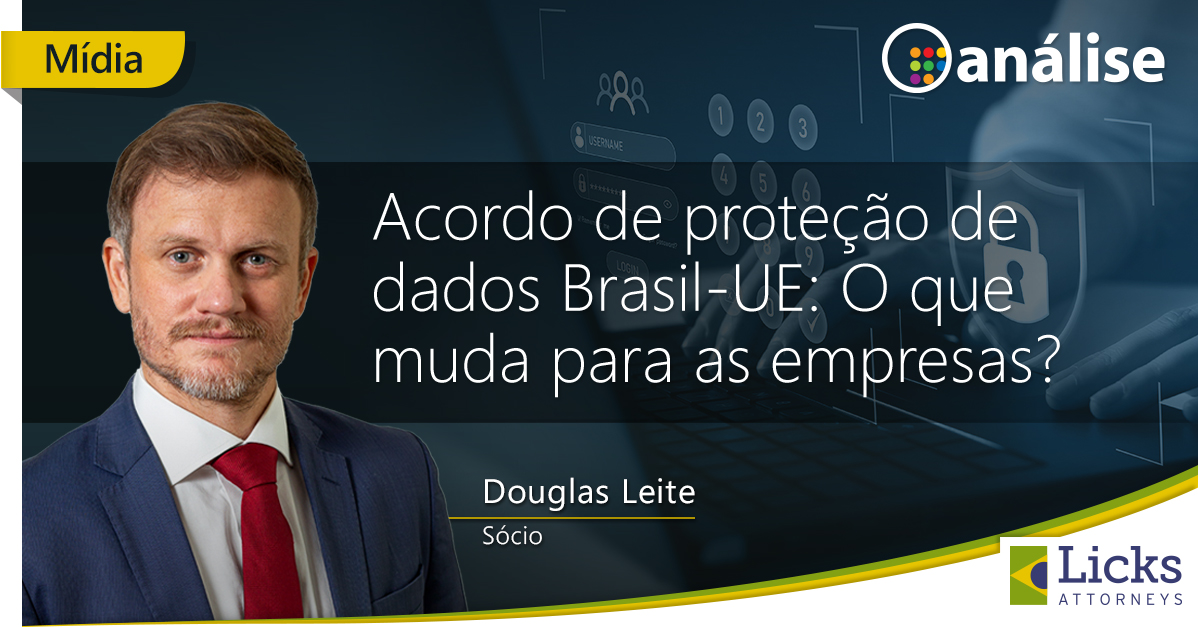
Acordo de proteção de dados Brasil-UE: O que muda para as empresas?
February 19, 2026 -

A indicação de Otto Lobo para a presidência da CVM
February 13, 2026

